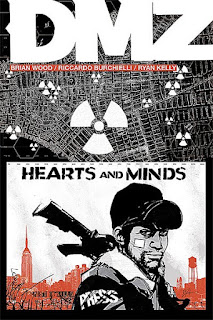Finda o ano e apetece-me olhar para a divulgação do tema do Livro (e do que lhe está associado) na opinião e na informação genérica - mais entendida como vaga do que como generalizada.
O panorama é triste. Depois da polémica da guilhotinagem de livros passou-se pelas atenções nem sempre coerentes ao desaparecido Saramago, pela descoberta da cobardia intermitente de Lobo Antunes e pelo aplauso da premiação internacional de Gonçalo M. Tavares.
Não é um levantamente exaustivo, claro, mas é um levantamente geral que serve um ponto de vista, de que o livro - tirando a última notícia - só serve para preencher quinze segundos de treta em telejornais que se alongaram para lá da realidade das notícias que um país tão diminuto tem para dar.
Como todos os olhares, o meu também se centra em algo em particular do pouco que enunciei aqui. E será enunciado de forma perfeitamente subjectiva e tendenciosa que deixará de forma muitos aspectos que são importantes para reflexão mas a que cada um deveria chegar por si mesmo.
O panorama é triste. Depois da polémica da guilhotinagem de livros passou-se pelas atenções nem sempre coerentes ao desaparecido Saramago, pela descoberta da cobardia intermitente de Lobo Antunes e pelo aplauso da premiação internacional de Gonçalo M. Tavares.
Não é um levantamente exaustivo, claro, mas é um levantamente geral que serve um ponto de vista, de que o livro - tirando a última notícia - só serve para preencher quinze segundos de treta em telejornais que se alongaram para lá da realidade das notícias que um país tão diminuto tem para dar.
Como todos os olhares, o meu também se centra em algo em particular do pouco que enunciei aqui. E será enunciado de forma perfeitamente subjectiva e tendenciosa que deixará de forma muitos aspectos que são importantes para reflexão mas a que cada um deveria chegar por si mesmo.
A guilhotinagem, tão sugestiva acção sobre os livros. Afinal, se Louis XVI e Lavoisier puderam ser guilhotinados, porque não uns quantos livros?
Quando a notícia surgiu vi muitos posts indignados por essa internet fora, reclamando que era insidioso e criminoso fazer tal coisa aos livros.
Não era o único tipo de opinião que se espalhou, mas era maioritária.
Pessoas a defenderem que se dessem esses livros. Dessem, de forma banal, distribuídos da parte de trás de camiões ou impingidos a instituições sem qualquer critério de maior.
As pessoas que defendiam isto eram as mesmas que não ligaram nenhuma a esses livros quando foram lançados, quando estavam com desconto na Feira do Livro ou quando estavam a ser vendidos ao desbarato nas feiras ocasionais que decorrem em estações de Metro.
As mesmas pessoas que até ali acharam que os livros não tinham serventia alguma defenderam que estes fossem entregues a outras pessoas quaisquer.
São as pessoas que endeusam os livros, os autores, a palavra, o objecto.
(Sou chato com este tema e provavelmente estou errado, mas este ano também me deu para persistir num único tema inútil...)
Pessoas que radicalizam a questão e não vêem que já são poucos os idealistas que estão a oferecer as suas palavras para que o mundo se ilumine.
Pessoas que não admitem que, afinal de contas, o livro é tanto um meio de expressão como um negócio.
Estas pessoas revoltaram-se naquele momento mas não acompanharam as notícias relativas à mudança da lei relativa ao IVA dos livros doados.
Nem sequer pensaram que uma empresa, mesmo que seja uma empresa de Cultura, tem de gerar dinheiro.
Estas doações de livros que até a Ministra da Cultura reclamou seriam uma excelente forma de acabar com todas as editoras, bastando para tal fazer um esforço consertado por... não comprar livros. Ao fim de dois ou três anos, uma edição de 1000 ou 3000 exemplares com somente 5 vendidos seria distribuída pelas bibliotecas, garantindo a leitura gratuita de todos aqueles que o desejassem e o declínio financeiro da editora.
Acabava-se a edição em Portugal e, em consequência, acabava-se a guilhotinagem!
Todos aqueles que se revoltaram não reflectiram e, por isso mesmo, não reclamaram com quem deveriam. Não reclamaram um plano sólido para melhorar o tratamento e o volume de edição do livro.
Anima-me imaginar que as mesmas pessoas que se revoltaram com a destruição física dos livros, cuja vida literária haviam destruído com a sua indiferença, acabarão por os comprar em breve.
Basta que a editora os lance com uma nova e espampanante capa, que aposte no marketing e os livros que ninguém quis serão os livros da moda.
Tudo porque a memória é curta e quem já não se lembra que os livros foram guilhotinados também não se lembrará que já outra vez tinha desprezado o livro que entretanto voltou aos escaparates.
A memória é tão curta que Garrett, Fernão Lopes, Eduardo Lourenço, Eugénio de Andrade, Jorge de Sena, Ramos Rosa, Goethe, Holderlin (cito daqui) são todos deitados à guilhotina porque não são modernos, vistosos e seja lá mais o que for que vende hoje em dia.
A editora, o ministério, os leitores. Todos têm culpas.